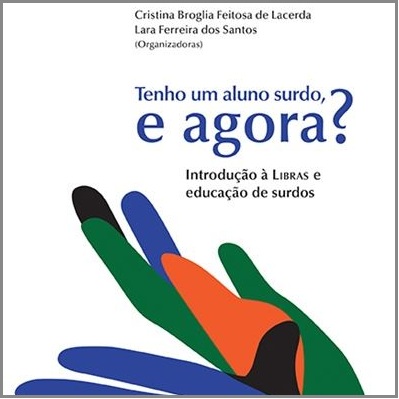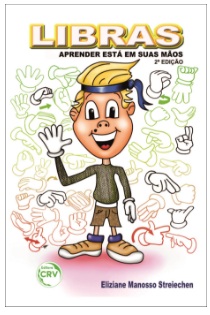Surdos - ano de 1880.
Em 1880, no Congresso de Milão, fórum de debate mundial sobre a educação de surdos, foi aprovada a filosofia do oralismo, tendo por objetivo a proibição da língua de sinais e imposição da língua oral.
A oralização, um método difundido por Alexander Bell, veio encapsular os surdos no modelo do ouvintismo, ou seja, de acordo com as regras da "normalidade". Este fato provocou uma revolta entre os surdos, pois a proibição de sua própria língua prejudicaria suas identidades, culturais e educação. Foi observado que os surdos não apresentavam progressos no desenvolvimento linguístico, cognitivo, afetivo e de linguagem por meio deste método. Quadros (1997), Skliar (1998), Sá (1999) e Lacerda (2006).
A imposição das regras de normalização representou uma grande tensão entre surdos devido à violência contra a cultura surda, marcada até hoje na história da educação de surdos. Podemos considerar como formas de agressão: a eliminação da diferença; a ridicularização da língua de sinais; a imposição da língua oral; a inclusão do surdo entre deficientes; e a inclusão do surdo entre ouvintes.
Hoje, o surdo encontra-se em conflitos dada a política de inclusão no ensino regular, pois este não é atendido por uma pedagogia da diferença, ou seja, uma prática pedagógica cultural que permita ao surdo construir sua subjetividade como diferente do ouvinte. O discurso de inclusão que perpassa os programas educacionais do governo ainda não vê o indivíduo surdo como sujeito cultural, mas, sim, como uma pessoa com deficiência, com uma necessidade especial, como uma criança com surdez. E, adicionalmente, usa o termo diversidade para definir a inclusão.
Os discursos, hoje, têm poder devido à sociedade majoritária que inventa o surdo. De acordo com Mélich (1998), o surdo perde seu poder de alteridade quando ele não pode ser ele mesmo, devido à influência das regras de normalização. O surdo encapsulado na regra da "normalidade" não consegue ter uma vida pessoal própria. Então, a vida entre culturas diferentes gera um conflito que se reflete no que se refere à questão de ser.
A seguir, serão apresentados diferentes teorias sobre a inclusão e seus diversos posicionamentos.
a) Educação Tradicional/Moderna: Sujeito Surdo como Deficiente e Anormal
A modernidade tem por objetivo unificar o conceito de cultura, construir uma sociedade globalizada e europeia formada por homens brancos, inteligentes, colonizadores. Silva (2000, p. 64) define o termo "globalização", da seguinte forma:
Refere-se à uniformização e a homogenização cultural, sobre tudo àquelas efetuadas por meio da mídia (...) a globalização tenderia a apagar a diversidade cultural em favor da difusão de uma cultura global que reflete, sobretudo, os gostos, os valores e as características culturais da cultura de massa dos países centrais do capitalismo. Silva (2000, p. 64).
Esta teoria está relacionada às metanarrativas, ao conhecimento disciplinar, à cultura ouvinte, ao cientificismo e a outros legados inspirados pela diversidade da herança do modernismo em que o surdo é considerado através do conceito da cura, da invalidez, da incapacidade e da deficiência, não podendo apresentar o jeito de ser do povo surdo. A cultura tradicional e hegemônica dos ouvintes tem sido uma cultura de exclusão, uma cultura que tem ignorado as múltiplas narrativas surdas, histórias surdas e "vozes" de grupos surdos cultural e politicamente subordinados. Como diz Carlos Skliar sobre as ideias dominantes, nos últimos 100 anos, que são
... um claro testemunho do sentido comum segundo o qual os surdos correspondem, se encaixam e se adaptam com naturalidade a um modelo de medicalização da surdez, numa versão que amplifica e exagera os mecanismos da pedagogia corretiva, instaurada nos princípios do século XX e vigente até nossos dias. Foram mais de cem anos de práticas enceguecidas pela tentativa de correção, normalização e pela violência institucional; instituições especiais que foram reguladas tanto pela caridade e pela beneficência, quanto pela cultura social vigente que requeria uma capacidade para controlar, separar e negar a existência da comunidade surda, da língua de sinais, das identidades surdas e das experiências visuais, que determinam o conjunto de diferenças dos surdos em relação a qualquer outro grupo de sujeitos. Skliar (1998, p. 1).
A teoria moderna na educação, em companhia do Iluminismo, prejudicou os surdos com a obrigação de se narrarem como "não surdos", pois neste espaço tem-se a posição do sujeito centrado, racional, autônomo e progressista. E, também, um espaço do ouvintismo, que se trata de um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se e a narrar-se como se fosse ouvinte. Para Skliar (id. Ibid), é nesse olhar-se e nesse narrar-se que acontecem as percepções do ser deficiente, do não ser ouvinte, percepções que legitimam as práticas terapêuticas habituais.
... o ouvintismo gerou os efeitos que desejava, pois contou com o consentimento e a cumplicidade da medicina, dos profissionais da área de saúde, do pois e familiares dos surdos, dos professores e, inclusive, daqueles próprios surdos que representavam e representam, hoje, os ideais do progresso da ciência e da tecnologia - o surdo que fala, o surdo que escuta. Skliar (1998, p. 16).
b) Educação para a Diversidade: Sujeito Surdo como Subalterno e Inferior
Esta educação, uma teoria crítica, tem por objetivo impor aos surdos a experiência ouvinte, colocando-os de volta ao colonialismo e impedindo-os de mostrar a diferença de ser. Não há lugar para o diferente nesse espaço e tempo de política colonial devido à construção da perfeição. Para a teoria crítica, ser surdo é bom, mas a cultura do ouvinte é melhor e perfeita.
Segundo Skliar:
Os surdos, como outros tantos grupos humanos, são definidos só a partir de seus supostos traços negativos, percebidos exclusivamente como exemplos de um desvio de normalidade. Se existem especificidades, estas não podem ser determinadas pelo tipo de grau de deficiência se não por um processo singular de construção de identidade. Skliar (1997, p. 252).
A teoria crítica tem interesse na diversidade em que o sujeito surdo é alguém tolerado e estereotipado. Esta teoria não celebra a diferença, pois pretende investir na cultura universal, comum e igualitária, abandonando a cultura surda, o jeito de ser do povo surdo. De acordo com Perlin, "o colonialismo ainda não terminou" (2006b, p. 28), devido à continuidade da imposição da escrita na língua oral e ao contínuo hábito da sociedade ouvincêntrica fazer o surdo ser o que ele, de fato, não é.
Os autores Duschatzky & Skliar citam Homi Bhabha sobre a distinção entre diversidade e diferença:
(...) a diversidade é distinta da diferença devido à sua norma transparente, construída e administrada pela sociedade, que "hospeda", que cria um falso consenso, uma falsa convivência, uma estrutura normativa que contém a diferença cultural: "a universalidade, que paradoxalmente permite a diversidade, mascara as normas etnocêntrica".
Duschatzky & Skliar (2000, p. 169).
A modernidade construiu vários estratégias de regulação e de controle da alteridade. Também denominou e inventou dodos de componentes negativos, tais como marginal, louco, deficiente, drogado, homossexual, etc. No caso do surdo, a alteridade está prejudicada, pois ele é apresentado como deficiente, e não diferente; funciona como o depositário de todos os males, como o portador das "falhas" sociais.
A teoria crítica tem por objetivo incentivar a diversidade, e não a educação da alteridade, tendo em seu campo uma pedagogia que favorece a inclusão como meio de integrar todos em um sistema único. Ela veio exigir dos surdos a participação na experiência ouvinte, colocando-os de volta ao colonialismo e limitando-os na hora de mostrar a diferença e serem eles mesmos. A situação da língua de sinais nesse caso é, segundo Skliar,
um meio eficaz para resolver a questão da oralidade dos surdos, mas não, por exemplo, um caminho para a construção de uma política das identidades surdas. (...) determinadas representações sobre a educação belíngue - e não somente no que se refere ao caso dos surdos - podem se constituir numa ferramenta conservadora e politicamente eficas para produzir uma idelolgia e uma prática orientada para o monolinguismo; itilizar a primeira língua do aluno para "acabar" rapidamente com ela, com o objetivo de "alcançar" a língua oficial.
Skliar (1998, p. 10).
c) Educação Cultural: Sujeito Surdo e Cultural
A cultura surda está em conexão com a teoria cultural, na qual o surdo é visto como diferente e sujeito cultural. a diferença, como diz Perlin (1998), assume um caráter principal na constituição da identidade surda devido ao surdo se perceber diferente do ouvinte.
Neste espaço, os surdos lutam pelos seus direitos de pertencerem a uma cultura surda representada pela língua de sinais, pelas identidade diferentes, pela presença d intérpretes, por tecnologias especializadas, pela pedagogia da diferença, pelo povo surdo, pela comunidade surda. Esta luta é para conquistar um espaço na escola onde a diferença surda possa ser respeitada. Segundo Perlin (2006a), a pedagogia da diferença trata-se da educação de surdos, fazendo assim uma inclusão nas diferenças enquanto a inclusão escolar significa excluir a deficiência e trazer para a "normalidade".
Legislação da Língua Brasileira de Sinais - Libras
As propostas de educação para surdos no Brasil sofreram mudanças devido a questões educativas e políticas que tiveram início pela Educação Especial, com o objetivo de atender alunos diferentes, tendo assim uma educação especializada e clínica. Depois, em meados das décadas de 1960 e 1970, adotou-se uma Educação Integradora, em que os deficientes tinham o direito de serem incluídos com os demais alunos. Na década de 1990, lançou-se a política de Educação para todos, proposta de inclusão escolar iniciada com a Declaração de Salamanca (Brasil, 1994), que teve como objetivo principal educar a todos no mesmo espaço. Ainda nesta década, Lançou-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/1996, que teve como objetivo garantir às pessoas surdas, em todas as etapas e modalidades da educação básica, nas redes públicas e privadas de ensino, a aquisição da língua nativa dos surdos. A partir daí surgiu o Decreto 5.296/2004, que regulamenta as leis de Acessibilidade (10.048/2000 e 10098/2000), priorizando o atendimento às pessoas surdas com serviços de atendimento prestados por intérpretes de Libras.
Em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional garantiu a todas as
pessoas surdas o direito de cursar todas as fases do ensino básico em instituições de
ensino públicas e privadas através da Lei 9.394/1996.
No Brasil, a utilização da língua de sinais e do português, oral ou escrito entre os
surdos cresceu desde a década de 90, por meio de diversas lutas e reivindicações da
comunidade surda, nos diversos setores da sociedade. Nesta mesma época, houve um
movimento de criação de escolas especiais, classes especiais para surdos, bem como
salas mistas de surdos e ouvintes com a presença do intérprete de Libras. Essa mudança
aconteceu em virtude de novas visões sociais, linguísticas e pedagógicas com relação à
surdez e aos surdos e também respaldada pelo surgimento da lei específica para a
LIBRAS, educação dos surdos e intérpretes.
A fim de solucionar o problema do método de ensino e tornar a educação de
surdos difundida nas escolas, pesquisadores, educadores, acadêmicos e os próprios
surdos formaram um movimento com o intuito de apontar outros caminhos para a
difusão da escolarização. A batalha para regulamentar e legalizar a LIBRAS somente se
concretizou em 2002, no mesmo ano estabeleceu-se também a inclusão do ensino de
LIBRAS nas licenciaturas como componente curricular prevista no Decreto 5.626 que
regulamentou a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua
Brasileira de Sinais - Libras.
O surdo é aquele que apreende o mundo por meio de contatos visuais, que é capaz de se apropriar da língua de sinais e da língua escrita e de outras, de modo a propiciar pleno desenvolvimento cognitivo, cultural e social. A língua de sinais permite ao ser surdo expressar seus sentimentos e visões sobre o mundo, sobre significados, de forma mais completa e acessível. (CAMPOS in LACERDA; SANTOS, 2013 p.48)
Referências
________. Decreto n° 5.626 de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei n° 10.436 de 24 e abril de 2002 que dispõe sobre a Lingua Brasileira de Sinais - LIBRAS. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm
Acesso em: 05 de abr. de 2018. Mais ...
________. Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
Acesso em: 05 de abr. de 2018. Mais ...
ALBRES, Neiva de Aquino. A educação de alunos surdos no Brasil do final da década de 1970 a 2005: análise dos documentos referenciadores. Campo Grande: Arara Azul, 2005. Disponível em:
https://editora-araraazul.com.br/cadernoacademico/007_teseneiva.pdf
Acesso em 05 de abr. de 2018. Mais ...
BRASIL. Declaração de Salamanca. Disponível em:
https://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf
Acesso em: 15 de out. de 2014. Mais ...
CAETANO, Juliana Fonseca; LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de. Libras no currículo de cursos de licenciatura: Estudando o caso das Ciências Biológicas. In: LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de; SANTOS, Lara Ferreira dos (Org.) Tenho um aluno surdo, e agora?: Introdução à LIBRAS e educação de surdos. São Carlos: EdUFCSCar, 2013. Cap.13, p. 219-236.
CAETANO, Juliana Fonseca; LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de; SANTOS, Lara Ferreira dos. Estratégias metodológicas para o ensino de alunos surdos. In: LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de; SANTOS, Lara Ferreira dos (Org.) Tenho um aluno surdo, e agora?: Introdução à LIBRAS e educação de surdos. São Carlos: EdUFCSCar, 2013. Cap. 11, p.185-200.
CAMPOS, Mariana de Lima Isaac Leandro; SANTOS, Lara Ferreira dos. Ensino de LIBRAS para futuros professores da educação básica. In: LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de; SANTOS, Lara Ferreira dos (Org.) Tenho um aluno surdo, e agora?: Introdução à LIBRAS e educação de surdos. São Carlos: EdUFCSCar, 2013. Cap. 14, p. 237-250.
GOLDFELD, M. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sociointeracionista. 2. ed. São Paulo: Plexus, 2002. 172 p. INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS. Projeto político pedagógico do colégio de aplicação. Brasil: 2011. Disponível em
https://portalines.ines.gov.br/ines_portal_novo/wp-content/uploads/2014/05/PPP-INES2011.pdf
Acesso em 05 de abr. de 2018. Livro: LINK
LODI, Ana Cláudia Baleiro. Ensino da língua portuguesa como segunda língua para surdos: Impacto na educação básica. In: LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de; SANTOS, Lara Ferreira dos (Org.) Tenho um aluno surdo, e agora?: Introdução à LIBRAS e educação de surdos. São Carlos: EdUFCSCar, 2013. Cap. 10, p 165-183.
SILVA, Silvana Araújo. Conhecendo um pouco da história dos surdos. Disponível em:
https://www.uel.br/prograd/nucleo_acessibilidade/documentos/texto_libras.pdf
Acesso em: 05 de abr. de 2018. Mais ...
Ensino da LIBRAS como instrumento de inclusão educacional nos cursos de licenciatura: desafios, realidades e necessidades
Michelle Andrea Murta*, Thais Alessandra Silva Felomeno**, Thais Mechler Fernandes***.
Resumo <PDF>
A oficialização da LIBRAS como uma língua é relativamente recente, bem como a adoção desta como disciplina obrigatória na formação de professores. Essa inclusão em ambiente acadêmico deu-se a partir da necessidade de se preparar profissionais capazes de ensinar os alunos surdos em escolas da rede pública e particular. No entanto essa formação de futuros docentes não é tão efetiva como deveria. Há obstáculos que devem ser ultrapassados por meio de iniciativa das instituições acadêmicas e dos discentes das mesmas. A escassez de material, pequena carga horária, que por sua vez não é padronizada são alguns dos desafios a serem enfrentados para a efetiva inclusão educacional dos alunos surdos.
Palavras-chave: LIBRAS. Formação docente. Educação. Educação inclusiva.
Na antiguidade (4000 a.C.-478 d.C.), segundo Moura, Lodi e Harrison (2005), relatam que os surdos não eram considerados seres humanos competentes, pois nesta época o pressuposto era de que o pensamento não podia se desenvolver sem linguagem e que esta não se desenvolvia sem a fala. Sendo assim, quem não e não falava, consequentemente, não ouvia pensava. O surdo não podia receber ensinamento ou aprender e não tinha direitos legais. Por um longo período essa situação se manteve.
Ao final do século XV o italiano Giralamo Cardamo começou a utilizar sinais e linguagem escrita para ensinar os surdos, contudo ainda havia a exclusão dessas pessoas. A pedido de nobres que tinham filhos surdos o monge Benedito espanhol Ponce de León dedicou-se a ensiná-los a ler, escrever, falar e as doutrinas da fé. A fala para os surdos, principalmente nesse período era de suma importância, pois significava seu reconhecimento como cidadão e a possibilidade de herdar os bens da família. O poder e o interesse da nobreza em que seus descendentes pudessem ter acesso aos direitos de herança foi um fator importante no reconhecimento do surdo como apto à educação escolar e impulsionou o "oralismo" como proposta educacional para os surdo (metodologia que existe até os dias de hoje). Nos séculos seguintes outros professores se dedicaram a educação dos surdos, alguns por considerarem a necessidade da fala para serem humanizados: OvideDecroly (Bélgica), Alexandre Gran Bell (EUA e Canadá), Samuel Heinicke (Alemanha), Abbé Charles Michael de I'Eppé (França), Juan Pablo Bonet (Espanha). Havia uma diversidade de métodos de ensino e cada professor utilizava o que considerava mais adequado. Em 1880 em Milão na Itália realizou-se o Primeiro Congresso Mundial de Professores de Surdos onde discutiu-se qual método de ensino deveria ser utilizado por todos; o Método Puro Oral (da língua falada), Método de Sinais ou Método Combinado (que unia a língua falada e os sinais). O Método Puro Oral foi o eleito para ser utilizado por todos os professores para ensinar os discentes.
Anteriormente ao Congresso o professor HernestHuet veio ao Brasil, a pedido de D. Pedro II para fundar a primeira escola de meninos surdos no país, o Imperial Instituto de Surdos Mudos que atualmente é o Instituto Nacional de Educação de Surdos mantido pelo governo federal e que atende crianças, jovens e adultos de ambos os sexos. A partir da criação do Instituto Imperial os surdos do Brasil passaram a contar com uma escola dedicada a eles e houve a possibilidade de se criar a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) inspirada na língua de sinais francesa. No século XX o número de escolas para surdos aumentou consideravelmente no Brasil. O Método Puro Oral estabelecido pelo Congresso de Milão era um obstáculo para a difusão da educação entre os surdos, isso por demandar muito tempo de adaptação da fala o que concorria com as matérias formais.
Até esse momento a educação dos surdos estava restrita a escolas especializadas ou a uma educação clínica, não havia integração entre estudantes surdos e ouvintes. Nas décadas de 1960 e 1970 instaurou-se a Educação Integradora, segundo a qual os estudantes deficientes tinham o direito de serem incluídos com os demais alunos. Foi a partir da Declaração de Salamanca, na década de 1990, que se iniciou a proposta de Educação Inclusiva com o objetivo de que todos pudessem ser educados no mesmo espaço.
Políticas educacionais deveriam levar em total consideração as diferenças e situações individuais. A importância da linguagem de signos como meio de comunicação entre os surdos, por exemplo, deveria ser reconhecida e provisão deveria ser feita no sentido de garantir que todas as pessoas surdas tenham acesso à educação em sua língua nacional de signos. (Declaração de Salamanca, 1994)