Ana Cristina Guarinello
Fonoaudióloga, doutora em Lingüística pela UFPR, docente da Universidade Tuiuti do Paraná. A pesquisadora é proficiente em Língua Brasileira de Sinais. Teses <Ir>
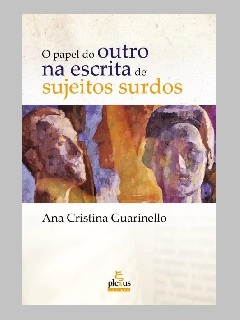
Livro/Sugestão <Ir>
O papel do outro na produção da escrita de sujeitos surdos <Ir>
Resumo
O objetivo desta investigação é evidenciar o papel do outro na construção das produções escritas de sujeitos surdos, além disso, pretendo também analisar produções escritas de dois sujeitos surdos de 11 e 15 anos, com base na lingüística textual, principalmente à luz dos estudos de Koch e Marcuschi (2002), ao tratarem do processo de referenciação, e Marcuschi (2001), ao tratar do processo de retextualização. Para isso, os dados escritos foram coletados em terapias fonoaudiológicas individuais, nas quais atuei como co-autora. As análises demonstram que o surdo é capaz de escrever e aproximar seu texto do português padrão, desde que lhe sejam dadas oportunidades de interagir com a escrita por meio de atividades significativas e que haja um trabalho de parceria e atribuição de sentidos pelo leitor.
Palavras-chave: leitura; escrita; surdez; fonoaudiologia.
Abstract
The aim of this study is to make evidence of other people's role in the writing production of two deaf subjects. It was also intended to analyze the writing production of two deaf subjects from ages between 11 and 15, based on textual linguistics, specially on the studies of Koch and Marcuschi (2002), when they refer to referential processes, and Marcuschi (2001), when he postulates the retextualization process. ...
Key-words:
reading; writing; deafness; speech language therapy.
Resumen
Este estudio apunta para hacer claro la posición del otro en la construcción de las producciónes escritas de personas sordas. Además, pretiendo analizar producciones de la escritura de dos personas sordas entre 11 y 15 de edad, basado en la lingüística textual, especialmente en los estudios de Koch y Marcuschi (2002), cuando ellos se refieren a los procesos del referencialidade, y Marcuschi (2001), cuando él postula el proceso del retextualization. ...
Palabras claves: lectura; escritura; la sordera;
fonoaudiología
Concordo com Koch (2003) quando afirma que o texto se constitui de um conjunto de pistas destinadas a orientar o leitor na construção do sentido. Para fazer essa construção, o leitor deve preencher lacunas, formular hipóteses, testá-las, encontrar hipóteses alternativas, ou seja, inferir. Essa inferência requer conhecimentos prévios, partilhados, etc. Esses conhecimentos eram compartilhados por mim e pelos sujeitos. Cabe ressaltar que o sujeito e eu produzimos um texto em parceria, pois os interesses, os conhecimentos, as situações, as normas e a língua compartilhada foram a base comum fundamental para a construção dos sentidos dos textos. Pg4
Durante os anos em que trabalhei com Rafael, observei que ele passou a refletir sobre seus textos e mudou sua postura perante a linguagem escrita. Inicialmente, Rafael negava-se a escrever, queria apenas contar seus textos por meio da língua de sinais, e que eu os escrevesse. Aos poucos, com a atividade textual partilhada comigo, Rafael perdeu o receio da escrita e começou a fazer hipóteses, a planejar seu texto e a construir comigo suas histórias. É óbvio que ele ainda não domina todos os aspectos formais e o conjunto de convenções que regulamentam o uso social da escrita, mas, por meio da mediação do adulto, provedor da escrita e criador de oportunidades para que esses aspectos se tornem evidentes, Rafael foi capaz de aceitar o desafio de escrever e produzir textos com coerência, criatividade e sem medo de errar, pois, apesar de lhe faltarem palavras na língua portuguesa, não lhe faltava o que dizer, apenas como dizer. O fato de Rafael e eu compartilharmos a língua de sinais permitiu que ele dividisse suas histórias e experiências comigo, e que, assim, eu pudesse dividir com ele minha experiência com a linguagem escrita; assim, Rafael estava produzindo uma escrita com alternâncias e justaposições entre as duas línguas envolvidas. A escrita tornou-se, assim, um espaço a mais de manifestação de sua singularidade, e Rafael passou, então, a construir sua relação com a linguagem. Pg7
No que diz respeito às dificuldades dos curdos, com a língua escrita, Sanchez (1999) considera o século XX como perdido no tocante à educação, pois eles não conseguiram recuperar sua dignidade, sua identidade e nem mesmo sua autonomia; em geral, foram tomados como "objetos de reabilitação".
Com relação à sua educação, mais especificamente, à aprendizagem da leitura e da escrita, a maioria dos trabalhos refere-se às dificuldades e às construções atípicas que os surdos apresentam. Atualmente, muitos surdos são considerados iletrados funcionais. No Brasil, a grande maioria dos surdos não domina a língua portuguesa. Além disso, há uma considerável parcela de surdos brasileiros que não tem acesso à língua de sinais, ou por motivo de isolamento social ou, principalmente, por opção da família por uma escola que não utilize essa língua, o que causa, além das defasagens escolares, dificuldade e impedimento quanto à inserção dessas pessoas na mercado de trabalho.
Essas dificuldades com a leitura e a escrita muitas vezes advêm do fato de a grande maioria dos surdos ter dificuldades para aprender uma língua. Isso ocorre principalmente em famílias ouvintes nas quais nasce um filho surdo. Em geral, os pais ouvintes têm muita dificuldade para se comunicar com seus filhos surdos; assim, a interação que deveria acontecer entre eles muitas vezes não ocorre de forma natural, é forçada, sistemática, pois os pais sentem-se mais confortáveis usando a fala e a audição, e as crianças surdas adquirem linguagem principalmente por meio da visão. O papel dos pais, que deveria ser de mediadores na construção da linguagem, geralmente falha, e o desenvolvimento lingüístico da criança, que deveria ocorre em casa, fica sob responsabilidade da escola ou das clínicas de reabilitação.
Ainda hoje, escolas especiais para surdos priorizam o desenvolvimento da fala e da audição, como se isso fosse um pré-requisito para a aprendizagem da linguagem escrita. Ou seja, primeiro é esperado que o surdo fale e depois depois aprenda a escrever. Muitas vezes, a língua de sinais, fundamental para o desenvolvimento do surdo, não é enfatizada, e o surdo acaba por dispor apenas de fragmentos da língua processada pelo canal auditivo-oral.
Cabe aqui ressaltar que vários estudos demonstram que os surdos filhos de pais surdos estão mais bem preparados para enfrentar a etapa escolar e apresentam melhor desempenho na leitura e na escrita, já que foram expostos a uma língua comum entre si e a seus pais, ou seja, a língua de sinais. No entanto, isso não significa afirmar que o fato de os surdos nascerem em famílias surdas é suficiente para que tenham melhor desempenho acadêmico e de linguagem.
Outro ponto importante a considerar é que a escola , geralmente, faz uso de livros didáticos ineficientes, que não permitem que a criança perceba a função do texto. Com as metodologias adotadas tradicionalmente no ensino da língua portuguesa, negou-se aos surdos:
o acesso a práticas lingüísticas significativas que os auxiliassem a perceber o sentido na aprendizagem de uma segunda língua. Como consequência, as respostas para o fracasso apresentado não foram buscadas nas estratégias inadequadas destinadas ao aprendizado da língua, mas foram justificadas como inerentes à condição da deficiência auditiva e não como possibilidade diferenciada de construção gerada por uma forma de organização lingüítico-cognitiva diversa (Fernandes, 1998, p. 160). <Ir>
Fernandes (2003) pensa e classifica as línguas a partir
dos espaços e canais utilizados para a emissão e recepção
dos sentidos. Para a autora, as línguas que se utilizam do
som para a comunicação, as oral-auditivas, são caracterizadas,
no momento em que a forma de recepção não-grafada (não-escrita) ocorre através da audição e o modo de reprodução
(não-escrito) se dá pela oralização. Esse é o caso do português
oral e de todas as línguas oralizáveis.
As línguas espaço-visuais também se colocam como
um modo de comunicação estruturado por meio de sistema
abstrato de regras gramaticais. Esses tipos de línguas utilizam
o visual para recepção e os sinais manuais para a reprodução,
tais como as línguas de sinais utilizadas pelos surdos para
comunicação dentro de um código previamente estabelecido e
organizado.
As línguas oral-auditivas e as línguas espaço-visuais
se caracterizam, portanto, como uma lei admitida numa
coletividade, com a finalidade de serem intermediárias entre
o pensamento e o modo como ele toma forma, seja através do
som ou dos gestos.
Paul Watzlawick, Janet Beavin e Don Jackson (1989)
consideram que todo comportamento e ação humana são
marcados pela impossibilidade de não comunicar. Qualquer
ato, em uma situação interacional, tem valor de mensagem
Atividade ou inatividade, palavras ou silêncio, tudo possui um
valor de mensagem; influenciam outros e estes outros, por sua
vez, não podem não responder a essas comunicações e, portanto,
também estão comunicando (WATZLAWICK; BEAVIN;
JACKSON, 1989, p. 44-45).